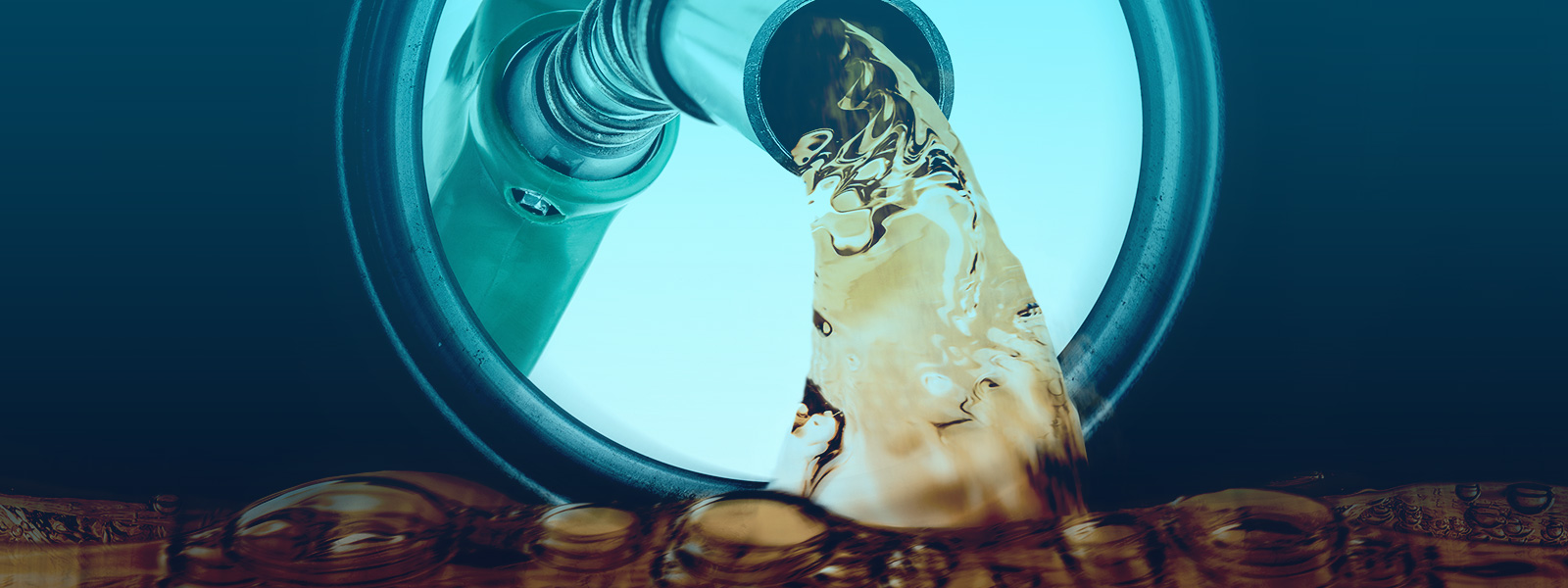Para economizar todo mês, usuário pode ter que pagar por fora mais de 50% do valor de procedimentos
roposta de um plano de saúde popular enviada pelo governo à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi mal recebida por especialistas, entidades de defesa do consumidor e até por médicos. A ideia da medida é trazer de volta os 2,8 milhões de brasileiros que perderam acesso a esse serviço nos últimos dois anos, acenando com novas modalidades de produtos que podem ter mensalidades de 20% a 38% mais baratas que as tradicionais, segundo estimativas das empresas. Para economizar todo mês, no entanto, o usuário pode ter que pagar por fora mais de 50% do valor do procedimento — a chamada coparticipação —, se submeter a reajustes sem regulamentação e se contentar com uma cobertura mais restrita. Analistas destacam que esses pontos podem significar um retrocesso de direitos e, nos casos dos modelos mais restritos, empurrar para a fila da rede pública quem precisar de atendimento de alta complexidade.
Ainda não há prazo para que as medidas entrem em vigor, e os pontos podem ser modificados nos próximos meses. A ANS informou que pediu mais informações para analisar a proposta, fruto de discussões de representantes de empresas, órgãos de defesa do consumidor e do governo. Quando receber mais material, a agência formará um novo grupo de trabalho, que terá 60 dias para discutir a viabilidade técnica e criar um produto.
Serão analisados três modelos: simplificado, ambulatorial/hospitalar e regime misto de pagamento. O mais restrito é o simplificado, que não cobre internações, exames de alta complexidade e atendimento de emergência. Só consultas e terapias de baixa e média complexidade estariam disponíveis.
“Crise não justifica retroceder”
No plano ambulatorial mais hospitalar, não há restrição em relação à complexidade, mas o atendimento hospitalar — como uma cirurgia, por exemplo — estaria condicionado a uma segunda opinião médica. Ainda não está claro para especialistas como funcionaria o regime misto. Uma das possibilidades é que o modelo seja semelhante aos planos odontológicos, em que o consumidor paga até 100% do valor do procedimento, porém mais baixos que os praticados pelo mercado por serem negociados pelas operadoras com os profissionais.
As sugestões incluem ainda regras gerais, que seriam aplicadas a todos os modelos. Um dos pontos polêmicos é a previsão de que os reajustes sejam definidos com base na planilha de custos das operadoras, que em 2016 ficou 17% mais cara, maior que o reajuste de 13,57% autorizado pela ANS para os planos individuais.
Para o diretor da Clínica São Vicente e fundador do site Observatório da Saúde, Luiz Roberto Londres, o projeto representa o oposto do que prevê a Constituição, que diz, em seu artigo 196, que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”. Ele lembra que a assistência à saúde pública sempre visou principalmente àqueles que não tinham possibilidades de pagar atendimentos e tratamentos.
“É a criação de uma importante diferenciação em função da capacidade financeira de cada um. Esse projeto desconsidera o que diz a Constituição, que veda a subvenção do governo às instituições privadas com fins lucrativos. Esse projeto deixa para o setor privado o atendimento à saúde básica.”
Para Maria Inês Dolci, coordenadora Institucional da Proteste Associação de Consumidores, a proposta não traz vantagem para o consumidor:
“Não adianta oferecer planos baratos, criando uma falsa expectativa de atendimento no consumidor, se posteriormente o custo do plano se tornará oneroso em razão de reajustes ou de mecanismo de regulação financeira de caráter restritivo.”
Para Daniela Trettel, defensora pública de São Paulo e pesquisadora, o projeto se assemelha aos falsos coletivos, planos por adesão mais baratos.
“No plano por adesão, o preço inicial é baixo e são aplicados reajustes absurdo. De repente as pessoas se veem obrigadas a sair. Nos planos populares, pode ser a mesma coisa.”
Em nota, o presidente da Organização dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, afirma que a alternativa é preocupante. “É absurdo imaginar que aqueles que necessitam de atendimento médico-hospitalar possam ficar à mercê da sorte com planos de saúde que não contemplam internação, urgência e exames de alta complexidade. Crise não é justificativa para retroceder”, diz a nota.
Sandro Leal, superintende de Regulação da Fenasaúde, argumenta que a questão é discutir modelos viáveis, “que caibam no bolso da população”. Hoje, não há limites para percentual de coparticipação, mas a média nos contratos fica entre 30% e 35%.
Segundo Antonio Carlos Abbatepaolo, diretor executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), o percentual de coparticipação vai depender do mercado, de cada operador:
“O foco das empresas é na participação em consultas e exames. É preciso detalhar isenções para internações ou cirurgias.”
 Saúde Online A Saúde em tempo real
Saúde Online A Saúde em tempo real